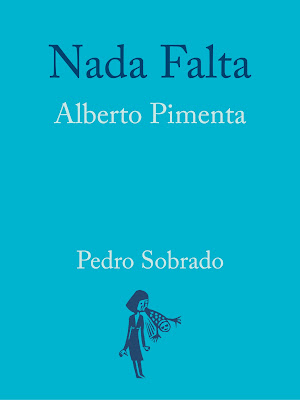03/01/2018
02/01/2018
2017
O ano de 2017 perturbaria a divisão da minha existência entre anos bons e anos maus. Aplico o condicional porque nunca me entretive com semelhante contabilidade analítica. Por um lado, sou desmemoriado em relação à cronologia da realidade exterior: baralho a ordem dos eventos e sou pródigo em anacronismos. Por outro, é o tipo de balanço que faz recuar um melancólico, para quem «a vida é, toda ela, um acto de demolição» (Scott Fitzgerald). De resto, essa divisão revela-se artificial e falaciosa, porque o calendário introduz, com as suas quadrículas, descontinuidades numa realidade que é fluida — o tempo —, falseando-a. Algo análogo se passa com consciência e linguagem, segundo Henri Bergson: constituída por elementos descontínuos (unidades, sintagmas, etc.), a linguagem trai aquilo que designamos por vida interior, caracterizada por um incessante devir, por um continuum ininterrupto. A linguagem seria, assim, um velho autocarro a perseguir uma aeronave — a consciência, a percepção, a memória, a imaginação. Mas deixemos isto, por ora. Dizia eu que 2017 arruinaria o projecto de classificar os meus anos em bons e maus. Porque, na verdade, foi um ano bom e mau ao mesmo tempo. Não quero com isto dizer que tenha sido feito de coisas boas e de coisas más, de ganhos e de perdas — o que, em rigor, caracteriza qualquer ano —, mas antes que coisas importantes que nele vivi foram simultânea e indestrinçavelmente boas e más — bênçãos e maldições. (Dizia um teólogo que, quando Deus abençoa, com o mesmo gesto também amaldiçoa.) Em 2017, não me aconteceu rir em algumas circunstâncias e chorar noutras. Não: ri e chorei ao mesmo tempo, como nos sucede nas peças de Beckett quando temos a felicidade de serem bem feitas: low comedies com reminiscências de alta tragédia… As minhas expectativas foram desfeitas e refeitas uma e outra vez, e senti-me virado sucessivamente do avesso, com os músculos e tendões numa estaca, ao Sol. Nos últimos dias do ano, vi-me a citar uma máxima talmúdica de Woody Allen: If you want to make God laugh, tell him about your plans. Quando me lembrar de 2017 no futuro, vou dizer sem hesitação: Foi um tempo terrível!, apressando-me em seguida a contestá-lo com veemência: Que disparate, foi um tempo maravilhoso! Por isso, associo 2017 ao início de A Tale of Two Cities, de Charles Dickens, porque deu voz ao meu susto e ao meu privilégio. Não vivi em duas cidades, mas é como se tivesse vivido duas histórias, tão inseparáveis afinal quanto o avesso e o direito. Transcrevo esse passo abaixo numa tradução talvez demasiado livre:
Foi um tempo magnífico, foi um tempo horrível. Foi o tempo em que sabíamos tudo, foi o tempo em que não sabíamos nada. Foi o tempo da crença, foi o tempo da incredulidade. Foi o tempo em que tudo se iluminou, foi o tempo em que tudo ficou às escuras. Foi a Primavera da esperança, foi o Inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Íamos em direcção ao paraíso, e íamos em sentido contrário.
Foi um tempo magnífico, foi um tempo horrível. Foi o tempo em que sabíamos tudo, foi o tempo em que não sabíamos nada. Foi o tempo da crença, foi o tempo da incredulidade. Foi o tempo em que tudo se iluminou, foi o tempo em que tudo ficou às escuras. Foi a Primavera da esperança, foi o Inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Íamos em direcção ao paraíso, e íamos em sentido contrário.
Subscrever:
Mensagens (Atom)