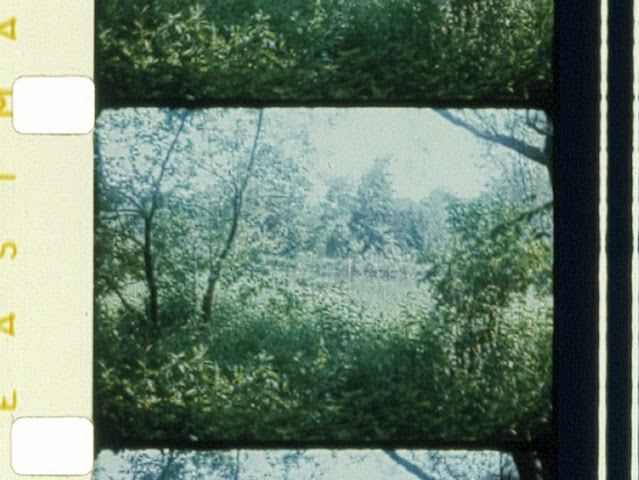Excerto de uma comunicação
proferida no dia 19 de Maio de 2025, no Museu Nacional Soares dos Reis, no
âmbito da sessão de Um Objecto e Seus Discursos dedicada a «Descida da Cruz», de
Domingos Sequeira (org. Museu do Porto)
 |
Pormenor de Descida da Cruz (1827). Fotografia: MMP/MNSR/Rui Pinheiro.
|
«Eu nunca li a Bíblia,
eu sempre a sonhei.» Esta declaração de Marc Chagall diz muito da minha relação
com o quadro Descida da Cruz, de Domingos Sequeira. Por mais do que uma
razão, como tentarei explicar. Antes de mais, assim me parece, um halo onírico,
uma atmosfera sonhada caracteriza a obra de Sequeira. Vemos a cena bíblica como
que por dentro de um sonho. Faz-me lembrar, sem que saiba explicar bem porquê,
os poemas bíblicos, de sabor oriental e pendor opiáceo, de Else Lasker-Schüler,
poetisa judia alemã da primeira metade do séc. XX. Também ela nunca leu a
Bíblia: sonhou-a, alucinou-a. Leio-vos parte de uma das suas baladas hebraicas,
intitulada “Reconciliação”, como amostra:
Há‑de uma grande estrela cair no meu colo…
A noite será de vigília,
E rezaremos em línguas
Entalhadas como harpas.
Será noite de reconciliação –
Há tanto Deus a derramar-se em nós.
Crianças são os nossos corações,
Anseiam pela paz, doces-cansados.1
Ocorre-me que, na
passagem para o século XX, o teatro passou a suspeitar do enredo – de enredos
elaborados, enxameados de personagens, eventos, reviravoltas, como sucede em
Molière ou Shakespeare –, privilegiando a atmosfera: die Stimmung, para
empregar um conceito filosófico frequentemente traduzido por “tonalidade
afectiva”. Na Descida da Cruz, temos porventura as duas coisas: enredo e
atmosfera. Quer dizer: Domingos Sequeira leu a Bíblia, e sonhou-a: estudou e
alucinou. O seu quadro não é só uma análise da matéria sagrada, é também uma
hipnoanálise.
Primeiro, há um
enredo, uma trama complicada, com plot e subplots. Temos o descimento de Cristo
da cruz, patrocinado por José de Arimateia, um homem rico que fora discípulo
secreto de Jesus e que, segundo São Marcos, reclamou «ousadamente» junto de
Pilatos o corpo do Messias morto: envolve-o agora num lençol muito fino para,
por fim, o instalar num sepulcro lavrado na rocha. Outra das figuras
representadas junto do cadáver crístico é Nicodemos, fariseu que traz para a
cena quase cem libras de um composto de mirra e aloé. Este homem procurara
Jesus de noite, furtivamente, para ouvir palavras escandalosas, isto é,
palavras que fazem tropeçar, talvez cair: «Necessário te é nascer de novo.»
Crucificado como um vulgar criminoso, é sepultado com um príncipe.
Este acontecimento
detém, no agenciamento pictórico de Sequeira, um papel nodal, atando
outros episódios que, na cronologia bíblica, não são coincidentes, ou
síncronos: um inusitado fenómeno climático – as densas trevas do meio-dia, hora
da crucificação –; os soldados romanos que lançam sortes sobre a túnica de
Cristo; os sacerdotes, escribas e fariseus que, depois da hora da blasfémia,
ponderam a estratégia securitária a adoptar nos dias seguintes; junto da cruz,
o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, mutuamente confiados pelo Messias em
estertor, capaz de palavras de vida ainda: «Mulher, eis aí o teu filho; [João,]
eis aí tua mãe.»
Não sou capaz de
determinar o quem é quem no quadro de Domingos Sequeira. Ali estão todos,
afinal, do sinédrio à rua: homens e mulheres, judeus e romanos, sábios e
néscios, príncipes e pedintes, justos e pecadores, vivos e mortos. O que talvez
surpreenda no quadro seja uma espécie de silêncio ou rumor, quando esperaríamos
uma vozearia. Alguns choram e lamentam; outros interrogam-se ou conspiram;
outros ainda rezam em “línguas entalhadas como harpas”. Há talvez quem
permaneça afásico – sem linguagem, sem fala – após o escândalo universal de
Deus capturado pela morte. Mas à vista desarmada não há enfáticos gestos
dramáticos, a eloquência lancinante da dor, mas antes uma qualquer dose de
resignação, um estranho conformismo. No centro de tudo, um cadáver pasmosamente
dotado de luz própria, como se diz que acontece com corpos estelares extintos,
cujo brilho continua a alcançar-nos.
O quadro está repleto
de pequenas histórias, algumas ignotas ou misteriosas, orbitando em torno dessa
grande história, aquela que é simultaneamente um buraco negro e um luzeiro
inextinguível, a história que rasgou a história do mundo em duas metades: antes
de Cristo, depois de Cristo. Mas – pairando sobre tudo isto, subjazendo a tudo
isto, atravessando tudo isto, como que radioactivamente – temos, assim me
parece, uma tonalidade afectiva, uma atmosfera: onírica, quase narcótica,
oriental. Os brasileiros usam a expressão pintou um clima, frequentemente para
se referirem a situações de flirt. Domingos Sequeira pintou um clima. Else
Lasker-Schüler escreveu num volume de prosa: “Sempre me esforcei por escavar,
não em busca de ouro, mas em busca de Deus. Às vezes, dava com um pedaço de
céu.”2
1 Else Lasker-Schüler, Baladas Hebraicas, tradução e apresentação João Barrento, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 45.
2 Citado por João Barrento na introdução ao volume supracitado, intitulada “Saudades do Paraíso” (pp. 14-15).