05 novembro 2025
Um ocupa no paraíso
04 novembro 2025
Arsenal de aparições
06 maio 2025
Bartleby e o SARS-CoV-2
Excerto de "Bartleby, privacidade e convívio", introdução a Bartleby, o Escrivão: Uma História de Wall Street (Penguin Clássicos, 2022).

Thin man wearing a derby (pormenor), tela de John Armstrong
usada como imagem da capa na edição de Bartleby da Penguin Clássicos
Canecas, t-shirts, crachás, bonés, autocolantes, cadernos, tote bags, ímanes para o MacBook ou a porta do frigorífico: a formulação I would prefer not to enxameia o mundo, alimentando hoje lucrativas linhas de merchandising. Aquele que delas mais deveria beneficiar – o jeito que lhe daria nos momentos de aperto, que também os teve – já não pode do irrisório slogan extrair qualquer proveito. Falo de Herman Melville, o autor de Moby-Dick, fracasso editorial de 1851 que se converteria, postumamente, na epopeia da nação que erigiu o sucesso como medida de todas as coisas. Esse artigo da Fama, a glória póstuma, nada aproveita ao seu titular. A proliferação contemporânea da «Fórmula» – palavra com ressonâncias mágicas e sacramentais, também químicas e matemáticas, empregue por Gilles Deleuze e Giorgio Agamben para designar a frase infalível com que o escrivão Bartleby passa, a dada altura, a responder a qualquer razoável solicitação –, a sua reprodutibilidade e veloz propagação, mesmo entre aqueles que não leram a novela de Melville, lembra a eficácia de um vírus. Deleuze assinala o carácter altamente contagioso desse imperativo categórico às avessas: «Preferia que não.» Toda a população do escritório apanha a palavra prefer, aplicando-a involuntariamente nas mais diversas ocasiões, por vezes a despropósito. «Então, também contraiu a palavra», diagnostica o homem de leis quando a ouve sair da boca de um dos seus mangas-de-alpaca. O mantra de Bartleby é inoculado no espírito dos que o ouvem, fagocitando-lhes a linguagem e o pensamento, como chega a temer o patrão-narrador, alarmado pela disseminação epidémica da «estranha palavra» que ninguém antes empregava. I would prefer not to é, na sua própria génese, um meme: a unidade mínima de um sistema que é copiada, imitada e se espalha à velocidade da luz, desencadeando novas variantes. Já ouvimos rumores de microrganismos que se escapam do ambiente controlado dos laboratórios. O vírus de Bartleby escapuliu-se do ecossistema ficcional de um escritório de Wall Street e tomou conta do real, sabendo estabelecer com o hospedeiro uma relação estável. Agora, como diria o beatnik William Burroughs, pode desdenhar de vírus de baixo coturno como a varíola ou o SARS-CoV-2, entregando-os ao Instituto Pasteur.
01 maio 2025
Jonas Mekas, o olhar que não mudou
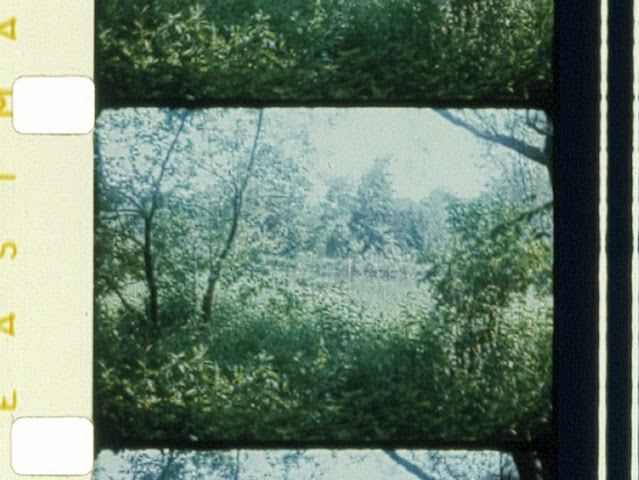 |
| Walden |
 |
| This Side of Paradise |
 |
| As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty |
O que as três horas de Walden nos oferecem é um olhar que não mudou. Jonas Mekas ainda está no Paraíso, preservando a alegria e o espanto diante das coisas, diante do facto pasmoso de haver mundo, em vez de nada. Apetrechado com a sua Bolex, ele é o anjo que filma o princípio do mundo, um mundo em estado nascente, infantil, pletórico. Walden não nos leva para os bosques de Thoreau, mas está repleto de crianças e árvores, celebrando as cenas de rua e a passagem das estações, filmando amigos em torno de uma mesa, números de circo, a festa de um casamento. Walden é feito de clarões do Paraíso, por vezes somos encandeados pela beleza.
Que o realizador américo-lituano seja um deslocado, como tantos outros que os tumultos do mundo continuam a gerar, não ameaça esta hipótese. Mekas viu-se forçado a abandonar a terra natal, mas não foi expulso do Paraíso; ainda que, com o irmão Adolfas, tenha vivido em campos de refugiados antes de, em 1949, chegar aos EUA, o seu olhar não foi obnubilado, permanecendo intacto e disponível para a primeira vez das coisas. O olhar de Jonas Mekas não envelheceu nem envileceu. Daí que a ideia de Paraíso, há muito varrida do discurso teológico, seja tão prontamente associada ao cinema de Mekas: Fragments of Paradise (2022) é o título do documentário que K.D. Davison dedica à vida e obra do realizador, e o próprio já baptizara um filme inteiramente dedicado aos acontecimentos de 1977, organizados em torno da figura de Oona, a filha de três anos, com o título Paradise Not Yet Lost. Vinte anos depois, até o delicado close-up à família Kennedy, rodado pouco tempo após o assassínio de J.F.K., receberá por título This Side of Paradise. Um outro título de Mekas serve-nos de descrição à experiência de atravessar os planos e imagens das seis bobines de Walden como quem entra numa floresta sem medo de nela se perder: As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000).
Talvez num aspecto Walden se distancie da noção de Paraíso. O filme de Jonas Mekas é um diário e está cheio de época, enquanto o Paraíso desconhece o tempo. Na teologia bíblica, o Paraíso é um lugar sem tempo, anterior ao tempo, está do lado da eternidade. A personagem do Tempo dos mistérios medievais só está autorizada a entrar em cena após a Queda, após a expulsão do Paraíso, e a Morte é figurada como a «triste paridura» de Adão e Eva, irremediavelmente caídos no mundo (Gil Vicente, Breve Sumário da História de Deus, 1527). Há quem se acerque de Walden com um interesse histórico preciso, pois ele oferece um luxuriante catálogo das figuras da cultura underground na Nova Iorque da década de sessenta: Allen Ginsberg, Stan Brakhage, Gregory Markopoulos, Andy Wharol, os Velvet Underground, John Lennon e Yoko Ono, entre tantos e tantos outros, mas também aparições inesperadas, como a de Carl Dreyer, de visita aos EUA. Mas, embora Walden seja precioso para a sociologia da cultura, não nos devemos enganar: não há hierarquia entre o casal Lennon/Ono e a barata que se esforça por atravessar a rua. A mesma viva atenção, a mesma alegria anima estes planos. O filme de Mekas excede a função documental, possuindo uma vocação poética e comunicando uma contagiante energia vital: «Não estou a documentar a realidade, estou a celebrar a realidade», dizia Jonas Mekas, que sempre se recusou a falar das imagens dos seus filmes como memórias do que viveu e foi perdendo com o tempo. The past cannnot be presented, escreveu Thoreau. O realizador ambicionava emancipar do chronos todas essas imagens para as celebrar no presente em que são vistas. O deus de Mekas é o kairós — o tempo oportuno, o instante favorável —, que a teologia cristã associa ao “tempo de Deus”. É como propõe C.S. Lewis em The Screwtape Letters (1942): «O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade.»
Sonhar a Bíblia: "Descida da Cruz", de Domingos Sequeira
Excerto de uma comunicação proferida no dia 19 de Maio de 2025, no Museu Nacional Soares dos Reis, no âmbito da sessão de Um Objecto e Seus Discursos dedicada a «Descida da Cruz», de Domingos Sequeira (org. Museu do Porto)
 |
Pormenor de Descida da Cruz (1827). Fotografia: MMP/MNSR/Rui Pinheiro. |
«Eu nunca li a Bíblia, eu sempre a sonhei.» Esta declaração de Marc Chagall diz muito da minha relação com o quadro Descida da Cruz, de Domingos Sequeira. Por mais do que uma razão, como tentarei explicar. Antes de mais, assim me parece, um halo onírico, uma atmosfera sonhada caracteriza a obra de Sequeira. Vemos a cena bíblica como que por dentro de um sonho. Faz-me lembrar, sem que saiba explicar bem porquê, os poemas bíblicos, de sabor oriental e pendor opiáceo, de Else Lasker-Schüler, poetisa judia alemã da primeira metade do séc. XX. Também ela nunca leu a Bíblia: sonhou-a, alucinou-a. Leio-vos parte de uma das suas baladas hebraicas, intitulada “Reconciliação”, como amostra:
Há‑de uma grande estrela cair no meu colo…
A noite será de vigília,
E rezaremos em línguas
Entalhadas como harpas.
Será noite de reconciliação –
Há tanto Deus a derramar-se em nós.
Crianças são os nossos corações,
Anseiam pela paz, doces-cansados.1
Ocorre-me que, na passagem para o século XX, o teatro passou a suspeitar do enredo – de enredos elaborados, enxameados de personagens, eventos, reviravoltas, como sucede em Molière ou Shakespeare –, privilegiando a atmosfera: die Stimmung, para empregar um conceito filosófico frequentemente traduzido por “tonalidade afectiva”. Na Descida da Cruz, temos porventura as duas coisas: enredo e atmosfera. Quer dizer: Domingos Sequeira leu a Bíblia, e sonhou-a: estudou e alucinou. O seu quadro não é só uma análise da matéria sagrada, é também uma hipnoanálise.
Primeiro, há um enredo, uma trama complicada, com plot e subplots. Temos o descimento de Cristo da cruz, patrocinado por José de Arimateia, um homem rico que fora discípulo secreto de Jesus e que, segundo São Marcos, reclamou «ousadamente» junto de Pilatos o corpo do Messias morto: envolve-o agora num lençol muito fino para, por fim, o instalar num sepulcro lavrado na rocha. Outra das figuras representadas junto do cadáver crístico é Nicodemos, fariseu que traz para a cena quase cem libras de um composto de mirra e aloé. Este homem procurara Jesus de noite, furtivamente, para ouvir palavras escandalosas, isto é, palavras que fazem tropeçar, talvez cair: «Necessário te é nascer de novo.» Crucificado como um vulgar criminoso, é sepultado com um príncipe.
Este acontecimento
detém, no agenciamento pictórico de Sequeira, um papel nodal, atando
outros episódios que, na cronologia bíblica, não são coincidentes, ou
síncronos: um inusitado fenómeno climático – as densas trevas do meio-dia, hora
da crucificação –; os soldados romanos que lançam sortes sobre a túnica de
Cristo; os sacerdotes, escribas e fariseus que, depois da hora da blasfémia,
ponderam a estratégia securitária a adoptar nos dias seguintes; junto da cruz,
o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, mutuamente confiados pelo Messias em
estertor, capaz de palavras de vida ainda: «Mulher, eis aí o teu filho; [João,]
eis aí tua mãe.»
Não sou capaz de
determinar o quem é quem no quadro de Domingos Sequeira. Ali estão todos,
afinal, do sinédrio à rua: homens e mulheres, judeus e romanos, sábios e
néscios, príncipes e pedintes, justos e pecadores, vivos e mortos. O que talvez
surpreenda no quadro seja uma espécie de silêncio ou rumor, quando esperaríamos
uma vozearia. Alguns choram e lamentam; outros interrogam-se ou conspiram;
outros ainda rezam em “línguas entalhadas como harpas”. Há talvez quem
permaneça afásico – sem linguagem, sem fala – após o escândalo universal de
Deus capturado pela morte. Mas à vista desarmada não há enfáticos gestos
dramáticos, a eloquência lancinante da dor, mas antes uma qualquer dose de
resignação, um estranho conformismo. No centro de tudo, um cadáver pasmosamente
dotado de luz própria, como se diz que acontece com corpos estelares extintos,
cujo brilho continua a alcançar-nos.
O quadro está repleto de pequenas histórias, algumas ignotas ou misteriosas, orbitando em torno dessa grande história, aquela que é simultaneamente um buraco negro e um luzeiro inextinguível, a história que rasgou a história do mundo em duas metades: antes de Cristo, depois de Cristo. Mas – pairando sobre tudo isto, subjazendo a tudo isto, atravessando tudo isto, como que radioactivamente – temos, assim me parece, uma tonalidade afectiva, uma atmosfera: onírica, quase narcótica, oriental. Os brasileiros usam a expressão pintou um clima, frequentemente para se referirem a situações de flirt. Domingos Sequeira pintou um clima. Else Lasker-Schüler escreveu num volume de prosa: “Sempre me esforcei por escavar, não em busca de ouro, mas em busca de Deus. Às vezes, dava com um pedaço de céu.”2
1 Else Lasker-Schüler, Baladas Hebraicas, tradução e apresentação João Barrento, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, p. 45.
2 Citado por João Barrento na introdução ao volume supracitado, intitulada “Saudades do Paraíso” (pp. 14-15).
04 janeiro 2021
«No princípio era a Relação»
02 janeiro 2021
Primeira palavra
Queremos ter a última palavra. É assim nas nossas discussões em casa, nas divergências que nos opõem no trabalho, nos processos de decisão. Ambicionamos enunciar a palavra derradeira, a palavra definitiva, a palavra que coloca um ponto final. O célebre prólogo de São João diz-nos que Deus tem a primeira palavra: uma palavra criativa, criadora. Jesus é a palavra que abre; a palavra que, em vez de terminar uma conversação, a inicia; a palavra que, longe de encerrar o assunto, o inaugura. Esta palavra é um chamamento: convida-nos a ingressar numa história ainda por escrever. É por isso que João Baptista diz de Jesus: “O que vem depois de mim é antes de mim.” Na tradução-paráfrase de Eugene Peterson, o Baptista assevera: He has always been ahead of me, he has always had the first word.
07 abril 2020
06 abril 2020
27 março 2020
A mais bela canção sobre a condição teatral
Acho que a primeira vez que ouvi Time de David Bowie foi em 1998, num espectáculo de Ricardo Pais, no Teatro São João. Talvez não tenha sido a primeira, mas foi aí que a canção se me tornou memorável. Ricardo Pais garante que é a mais bela canção sobre a condição teatral. Canta Bowie: «Olho para o relógio, são 9h25 e penso: ‘Meu Deus, ainda estou vivo!’ Devíamos estar agora a entrar em cena.» Hoje é Dia Mundial do Teatro. Ainda estamos vivos — e devíamos estar a entrar em cena... O Teatro estabelece uma relação peculiar com o tempo: é efémero, fugaz e, no entanto, como que suspende o tempo, iludindo a morte. «O tempo desconcertou-se», como no Hamlet, e os ponteiros saltaram dos gonzos, ou — como escreve Gil Vicente — «este relógio nam se destempera: é muito certo e muito facundo»?
22 março 2020
O sabonete (um elogio fúnebre)
o seu aroma! Por quantas mãos passou,
que desinteressado serviu, e de cada vez
lá ficava a sujidade. E ele sempre imaculado.
Desgastando-se sem uma queixa.
E assim consumindo-se, mirrando,
sem se dar por ela, já muito fino,
quase transparente,
até que uma manhã
acabou por desaparecer,
não ficou nada.
Hans Magnus Enzensberger – «O sabonete»,
posto na nossa língua por Alberto Pimenta
In 66 Poemas (Edições do Saguão, 2019)
18 março 2020
«A higiene é o princípio da santidade.»
PS – Lembrei-me deste dito dos Padres do Deserto quando, há uns tempos, tropecei num passo de Dias Felizes, de Beckett, um homem que tinha qualquer coisa de anacoreta: «Aconteça o que acontecer, arranja-te.»
17 março 2020
De mãos dadas
Estar só
Sinais dos tempos
24 julho 2019
Pedro Sobrado, por ele mesmo
Nasci em 1976, no Porto, onde resido e trabalho. Sou o mais novo de três irmãos – escassos seis anos de diferença para a minha irmã Susana, cinco minutos imensos para o meu gémeo Jorge, que é hoje vereador da Cultura da cidade de Viseu. Filho e neto de metalúrgicos, não saberia dizer de que é feito o latão, o zinco ou o aço. Mas consigo sentir ainda o cheiro da limalha e das emulsões, e ouvir o ritmo sincopado da cunhagem. O facto mais decisivo da minha infância foi a conversão dos nossos pais, Ernesto e Leonor, em 1984, na Igreja Baptista. As Escrituras passaram a ser lidas em casa: muitas vezes, não entendíamos o que líamos, pressentíamos talvez a imensidão de um sentido. Ao contrário do que tão teimosamente pensam os meus amigos, não gosto de falar de religião, muito menos dessa coisa difusa e narcótica a que se dá o nome de “espiritualidade”. Mas a Bíblia permanece para mim como a sarça ardente do Monte Horeb: coisa viva que arde sem se consumir, um livro temperamental e caprichoso, com vontade própria, luz própria. As Escrituras estão no centro do meu trabalho como dramaturgista – comecei, em 2009, por esclarecer as coordenadas bíblicas de um auto de Gil Vicente – e como investigador académico: as relações perigosas entre Bíblia e literatura formam o meu campo preferencial de análise, reflexão teórica e produção ensaística.
Em 1998, concluí a licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, de que fui à época, passe a imodéstia, o melhor aluno. Foi uma decepção não ter sido convidado para ali ficar. Conheci dois professores excepcionais, António Bento e Edmundo Cordeiro – é a voz deles que, em alguns momentos, me esforço ainda por ouvir. Iniciei uma obscura carreira académica como assistente universitário em Bragança, onde leccionei disciplinas várias de um curso de Comunicação e, depois, também de um curso de Animação Cultural. Durante dois anos, vivi entre o Nordeste Transmontano e Lisboa, onde frequentava um curso de mestrado, desperdiçando boa parte do meu tempo de vida em camionetas da Rodoviária Nacional que sacolejavam aflitivamente IP4 acima, IP4 abaixo.
Em 2000, deixei irresponsavelmente um ano lectivo a meio para vir trabalhar no Teatro Nacional São João dirigido por Ricardo Pais, instituição de que sou um epígono ou subproduto. Desde 1996 que o TNSJ vinha a formar-me como espectador de Teatro. O final do século XX foi um período entusiasmante para as artes cénicas no Porto: com o São João, jogava-se não só a reinvenção do estafado modelo de Teatro Nacional no Portugal democrático, mas também a renovação das linguagens de cena e a profissionalização dos modos de produção e comunicação das artes performativas. O Teatro parecia emancipar-se de um atávico amadorismo, da sensação de uma obsolescência irremediável, de uma sebenta estético-ideológica velha e relha. No centro de tudo isto, a personalidade magnética de Ricardo Pais, que eu não conhecia pessoalmente. Conservo ainda, com orgulho pueril, o anúncio de jornal a que, tão pouco convictamente, respondi. Ainda hoje me parece que não detenho o perfil de competências que então se requeria.
Entre 2000 e 2005, fui assessor de imprensa do TNSJ, função rotineira e um pouco desmoralizante que, todavia, me concedeu tempo para apreender a casa e a mecânica do Teatro e, ao mesmo tempo, conhecer os autores, os encenadores, as companhias – o tempo e modo do Teatro, digamos. Ausentei-me do TNSJ por um ano, com o pretexto de fazer uma pós-graduação em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Voltei para reforçar o departamento de Edições, onde trabalhei doze anos ininterruptos, entre 2006 e 2018. Assumi, com João Luís Pereira, a direcção editorial da colecção de livros do TNSJ nas editoras Campo das Letras e Húmus e assegurei a coordenação de muitas outras publicações, como os Manuais de Leitura das produções da casa, colectâneas de textos, boa parte deles originais, que expandem o acesso crítico às obras e aos autores, mas também à cena, prolongando pela leitura a experiência do espectador. (Numa apreciação exorbitante, o crítico literário Luís Miguel Queirós escrevia, no jornal Público, que estes Manuais de Leitura justificariam a atribuição do «estatuto de instituição cultural relevante por direito próprio» ao núcleo editorial do TNSJ.)
O meu ingresso no departamento editorial aprofundou a proximidade com Ricardo Pais, que vivia desde 2003 uma segunda encarnação como responsável máximo do TNSJ, acumulando a direcção artística e a presidência do Conselho de Administração. Acompanhei de perto projectos como Turismo Infinito – o espectáculo quintessencial de Ricardo Pais –, fiz-lhe várias entrevistas e com ele comissariei, em 2008, Tu Judeu e Eu Judeu, um colóquio sobre O Mercador de Veneza de Shakespeare e a ‘questão judaica’. Foi a minha primeira experiência ao nível da organização de conferências e mesas-redondas, papel que assumi repetidamente nos anos que se seguiram, já com Nuno Carinhas na direcção artística do TNSJ.
Foi ele quem me inventou como dramaturgista, figura nobre na tradição teatral germânica e emprego para gente frustrada das letras na nossa. No teatro, dramaturgista pode ser tanto aquele que não escreve uma só palavra – explorando, com encenador e actores, as linhas e entrelinhas de uma peça ou estabelecendo um sentido global para ela – como aquele que constrói um guião ou texto cénico inédito, partindo de materiais pré-existentes, dramáticos e não-dramáticos: um bricoleur (ou habilidoso) que aproveita o que está à mão para propor uma coisa nova. Nesta condição, trabalhei dez anos com Nuno Carinhas em espectáculos que marcaram toda uma década de produção artística no TNSJ, começando com autos vicentinos de carácter religioso e teológico (Breve Sumário da História de Deus em 2009 e Alma em 2012), peças que boicotam o lugar-comum que vê em Gil Vicente um autor de extracção popular, cómico e chalaceiro. A parceria prosseguiu com Os Últimos Dias da Humanidade (2016), um drama majestoso e monstruoso do austríaco Karl Kraus, e Macbeth (2017), a mais aziaga tragédia de Shakespeare, culminando em Uma Noite no Futuro (2018), um teatro cheio de luz e sombras que convizinhava peças de Samuel Beckett e de Gil Vicente. Em 2014, trabalhei também como dramaturgista com Ricardo Pais, no espectáculo al mada nada, projecto que mobilizava textos de Almada Negreiros e associava um actor e uma crew de b-boys, para além de um percussionista.
Nesses anos, assegurei regularmente a organização de colóquios, conferências e debates, tomando parte neles ou assumindo a sua moderação, e envolvendo personalidades como José Tolentino Mendonça, Maria Velho da Costa, Frederico Lourenço, Pedro Mexia, António M. Feijó, Frei Bento Domingues, Luísa Costa Gomes, José Pacheco Pereira, Ricardo Araújo Pereira e Alberto Pimenta, ou alguns dos mais importantes especialistas internacionais em Shakespeare, como Michael Dobson (director do Shakespeare Institute) e Janet Adelman (University of California). Paradoxalmente, em anos marcados pela crise económico-financeira que se abateu sobre o país e afectou gravemente o TNSJ, conheci o privilégio e o luxo – leia-se, experiências de descoberta, aprendizagem e inspiração. Devo-o a Nuno Carinhas, cuja discrição é directamente proporcional ao seu talento.
No ínterim, retomei a minha actividade académica: concluí em 2014 um mestrado em Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e inscrevi-me em doutoramento, com o propósito de escrever uma tese sobre o teatro religioso de Gil Vicente, mobilizando leituras e pesquisas realizadas ao longo dos anos. Voltei a dar aulas: sou, desde 2016, professor de literatura dramática no curso de licenciatura em Artes Dramáticas – Formação de Actores da Universidade Lusófona do Porto. É talvez a leccionar que me sinto mais feliz, isto é, que mais rapidamente me esqueço de mim próprio: a sala de aula pode, afinal, ser um recreio. Passei também a colaborar como autor, conferencista e formador com outras instituições, como a companhia Comédias do Minho, o São Luiz Teatro Municipal ou o Balleteatro Escola Profissional.
Em 2017, o Estado atribuiu-me uma bolsa de doutoramento para um período de quatro anos. Preparava-me para deixar o TNSJ quando Ministério da Cultura me convidou a assumir a presidência do Conselho de Administração da instituição, ao fim de 18 anos de casa. Mais uma vez, o Teatro perturbou os meus planos académicos. Aceitei sem sombra de hesitação, só depois fui acometido pela dúvida. É como diz um poema de Manuel António Pina: «Primeiro sabem-se as respostas./ As perguntas chegam sempre depois.» Não possuo o perfil típico de gestor público. Gosto de pensar que, tal como a personagem de Hamlet se encontra escrita mas pode ser feita de muitas maneiras, também o ‘papel’ de presidente do Conselho de Administração está escrito – fixado na lei – mas admite uma razoável amplitude de interpretação. De resto, tal como Hamlet, o presidente do Conselho de Administração do São João tem de possuir um fascínio contínuo pelo Teatro e gostar de actores. Também deve ponderar muito antes de decidir – só não pode demorar cinco actos a agir.
Esta espécie de nota biográfica não estaria completa se não mencionasse este facto: sou cristão. Inibo-me frequentemente de o dizer – não porque considere que as crenças religiosas pertençam à esfera íntima, privada: o Novo Testamento não admite tal hipótese. É, antes, a sensação de que a minha condição não advoga a favor do cristianismo, talvez lhe sirva de refutação até. Incapaz de proselitismo, gosto de apologetas, como C.S. Lewis. As minhas preferências literárias conspiram contra o meu calvinismo mediterrânico: Chesterton, Graham Greene, Evelyn Waugh e, sobretudo, Flannery O’Connor, todos católicos romanos.
Last but not least. Sou casado com a ilustradora e designer Abigail Ascenso, a quem devo mais do que sou capaz de dizer, e pai de um menino de um ano e meio chamado Benjamim – my biggest accomplishment!
19 maio 2019
Elogio da lentidão (IV)
Nelson Rodrigues
11 maio 2019
Eunucos e programadores
 |
| Lord Varys, Master of Whisperers |
Debate sobre a internacionalização (essa sereiazinha…) das artes performativas: uma pessoa na plateia contesta à organização do encontro a composição do painel, não em termos de competência ou saber, mas em termos de género e raça: cinco homens, todos eles brancos e acima dos 40 anos de idade. O embaraço é indisfarçável, talvez porque a observação expõe uma dolorosa contradição. Afinal, o discurso de programadores de teatro e dança parece hoje dominado, um pouco enjoativamente, pelas questões de identidade e de género. Homem branco, prestes a completar 43 anos, sofro também o incómodo dos oradores caucasianos. Mas enquanto um ou outro tenta desembaraçar-se da questão como sabe ou pode, tudo o que me vem à cabeça é uma réplica do eunuco Varys, no episódio de domingo passado de A Guerra dos Tronos: Cocks are important, I’m afraid.


















